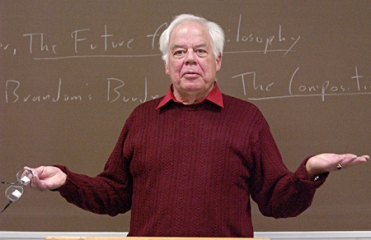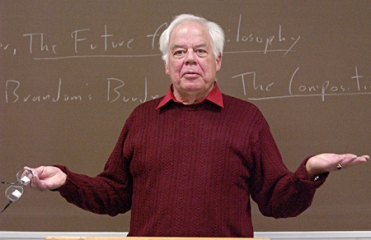 Ao fim de toda experiência, deve-se retornar ao objeto experienciado (motivo e fundamento da investigação) descrevendo o caminho que foi tomado: o método. Em seguida, deve-se convidar outro para que trilhe o percurso, tornando possível a verificação da experiência, enriquecendo o método e seus resultados. Pelo menos é assim que John Dewey propõe o processo de “verificação” em Experiência e Natureza. É assim que ele desenvolve seu método pragmático de pesquisa em filosofia
Ao fim de toda experiência, deve-se retornar ao objeto experienciado (motivo e fundamento da investigação) descrevendo o caminho que foi tomado: o método. Em seguida, deve-se convidar outro para que trilhe o percurso, tornando possível a verificação da experiência, enriquecendo o método e seus resultados. Pelo menos é assim que John Dewey propõe o processo de “verificação” em Experiência e Natureza. É assim que ele desenvolve seu método pragmático de pesquisa em filosofia
Richard Rorty, filósofo que admiro e que se tornou minha “porta de entrada” ao pragmatismo estadunidense, não toma o caminho verificacionista de Dewey; opta pelas propostas políticas e por suas “reconstrução” em filosofia. Porque é importante essa explanação toda? Porque ela é exemplo de construção de um sistema significativo de justificação: determinados caminhos que enredam significados e produzem sentidos. Rorty traça suas críticas a certa tradição filosófica e desenvolve sua “ironia” escolhendo interpretar o mundo à partir de um marco teórico fundado não no método pragmático de Dewey, mas em suas proposições pragmáticas. Assim, o sentido de sua produção teórica precisa ser entendido dentro desse sistema e suas conexões.
O trabalho com filosofia muitas vezes é chato, demorado e cansativo por causa disso: você precisa enxergar o sistema que justifica determinada expressão. Quando Rorty indica suas inspirações – Nietzsche, Dewey e Heidegger -, está apresentando os caminhos que tomou e que precisam ser seguidos para que sua filosofia seja compreendida. Quando cita Habermas, Fukuyama, Marx ou Hegel, apresenta concordâncias e discordâncias: mais alguns pontos de seu sistema, de seu marco teórico. Vendo, tateando, ouvindo… Começamos a entender o sistema, enxergar seus fundamentos, seu desenho, organização e, a partir disso, se torna possível criticá-lo.
Neste post, apresentarei traços do sistema de Rorty (desenhando, na verdade, um rascunho dele num guardanapo) e, enquanto isso, fazer uma crítica sistêmica (desenhando outra forma possível em outro guardanapo). O objetivo final é exemplificar a análise de um sistema significativo de justificação (filosofia) e abrir caminhos para críticas. Precisamos aprender esse trabalho. É o que tenho escrito em outros textos a respeito da construção de um “marco teórico” próprio.
O texto chamado Fim do leninismo, Havel e esperança social possibilita didaticamente entender “com quem” e “como” estamos conversando. Nele, Rorty está fazendo uma crítica a uma tradição filosófica delineada por ele como Platão-Hegel-Marx-Heidegger. A crítica objetiva é ao sentido que “história” tem para essa tradição: um caminho de lutas, puro, destinado aos “heróis-sábios-intelectuais”. É o “romance da história”, que sonha com uma política utópica em que o mundo inteiro viverá em paz, alcançando a glória e a ordem perfeita. Seria uma filosofia que tem como fundamento primeiro a República de Platão; que ganhará outros caracteres e sentidos, mas com o mesmo significado: um ápice no fim da História em que todos viverão plenamente felizes, sustentados na justiça, no bem e sem miséria.
Aqui já podemos comentar a função de um sistema: dar sentido aos significados. A “política utópica” tem o mesmo significado, para Rorty, na tradição de Platão a Heidegger. Isso significa que é “a mesma coisa”? Não. O significado dessa cosia (política utópica) tem diferentes sentidos nos diferentes sistemas dos filósofos citados. Dependendo o lugar que um significado (uma coisa) ocupa dentro de um sistema, tem determinado sentido. Um exemplo que Enrique Dussel dá é: imagine uma mesa; ela tem um significado já sabido, mas quando você a vê com as quatro pernas para cima, ao contrário do que “deveria”, você diz que “não faz sentido!”. Tem o mesmo significado – continua sendo mesa -, mas o sentido é alterado pois está disposto em um lugar e de modo diferente. Para que tenha “sentido”, todo o sistema terá que ser reorganizado. Se isso não ocorre, não entendemos o porquê aquela coisa ou aquele significado está com “outro modo”, em outro lugar – fica sem sentido!
Rorty, então, propõe que a esquerda precisa jogar fora o vocabulário que constitui esse “romance da história”. Com críticas contundentes e geniais – que serão tema de outro texto – que não utilizaremos aqui, apresenta seu interlocutor: os intelectuais estadunidenses. Sua conversa é direcionada para a esquerda e para a intelectualidade existente na realidade concreta, histórica e determinada das universidades dos Estados Unidos da América. Assim, para eles, afirma que deveríamos entender a preocupação de Fukyuama (que escreveu a respeito do “fim da História”) que o que está sendo constatado em nosso mundo não é o fim da história propriamente falando, mas o fim da “filosofia da história” e com ele o fim desse romance da história. A história deixou de ser um objeto manipulável por nós, intelectuais-filósofos do ocidente, o que impede que declaremos “paz eterna” e que proponhamos “justiça e fim da miséria humana”.
“Filosofia da História” e “História como Objeto” são referências direcionadas: tem que ter sentido à partir de Hegel e Heidegger, respectivamente. Hegel propôs uma filosofia da história que considerava a passagem do tempo como o processo de encarnação e consumação do Espírito rumo à liberdade absoluta. O trabalho intelectual seria saber analisar esse movimento e trabalhar como guias sábios para o bom fim, gran finale. Marx, em certa medida, assume o movimento ao tornar o trabalhador como o agente revolucionário que instaurará o comunismo e a “salvação” humana. Heidegger, por sua vez, estabelece um sentido de história diferente (bem diferente) e tenta, à partir do fundamento ontológico, entender a história como objeto, como o ser-aí que passa e se demora compreendendo-se; era o problema de entender o já, o hodierno, e o passado na construção do “mundo”, na vivência do ser-aí-no-mundo (Ser e Tempo e Ontologia). Continuar lendo →
 É quase que um costume em toda santa primeira aula de filosofia trabalharmos – claro, de diferentes maneiras e abordagens – a diferença entre “opinião” (doxa) e “sabedoria” (sofia). Resgatamos a clássica distinção entre sofistas (emitidores de opiniões) e filósofos (produtores de sabedoria). Por um tempo achei isso besteira, assumindo até uma postura imatura de rejeição à proposta. De uns tempos para cá, entretanto, reencontrei esse mapa e percebi que tinha dado os passos na direção errada! Era um problema de interpretação. Uma coisa é o “produto”, outra é o “meio de produção”…
É quase que um costume em toda santa primeira aula de filosofia trabalharmos – claro, de diferentes maneiras e abordagens – a diferença entre “opinião” (doxa) e “sabedoria” (sofia). Resgatamos a clássica distinção entre sofistas (emitidores de opiniões) e filósofos (produtores de sabedoria). Por um tempo achei isso besteira, assumindo até uma postura imatura de rejeição à proposta. De uns tempos para cá, entretanto, reencontrei esse mapa e percebi que tinha dado os passos na direção errada! Era um problema de interpretação. Uma coisa é o “produto”, outra é o “meio de produção”…