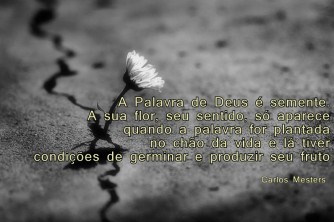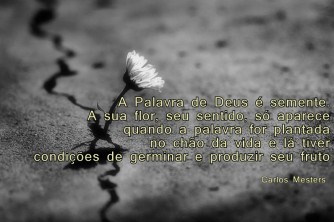 Esse texto é endereçado àqueles que vivenciaram crises religiosas e se propuseram a rever a teologia aprendida, a tentar criar novos rumos para nossas crenças e religiosidade. Creio que só se dá ao trabalho de rever teologia quem realmente se importa com ela. Creio que só se lança a criticar instituições e a religiosidade quem teve, de algum modo, uma experiência de fé profunda – que hoje já não encontra voz nos discursos de antes. Especialmente, este texto é para aqueles que são de minha comunidade religiosa e que desejam construir uma nova casa para acolher os cansados, os abandonados e os desabrigados
Esse texto é endereçado àqueles que vivenciaram crises religiosas e se propuseram a rever a teologia aprendida, a tentar criar novos rumos para nossas crenças e religiosidade. Creio que só se dá ao trabalho de rever teologia quem realmente se importa com ela. Creio que só se lança a criticar instituições e a religiosidade quem teve, de algum modo, uma experiência de fé profunda – que hoje já não encontra voz nos discursos de antes. Especialmente, este texto é para aqueles que são de minha comunidade religiosa e que desejam construir uma nova casa para acolher os cansados, os abandonados e os desabrigados
Semana passada pude ler o texto de Piero, irmão de comunidade, parceiro de casa. O título é provocativo: Matar nosso Deus! (você pode acessá-lo clicando no hiperlink), mas não se assuste. Dos muitos comentários que o texto recebeu, o que mais me chamou a atenção foi um que pinçava um único ponto: Deus como objeto de nosso amor. Não sei se esse é a tese central do texto – na minha leitura, o problema que Piero percebeu tinha mais a ver com a fixação de Deus -, mas será este o gancho para trabalharmos aquilo que me parece ser fundamental e que nos falta, enquanto novos teólogos, para transmitirmos nossa mensagem: sistematização do discurso, a produção de um sistema significativo de justificação. A análise que faremos deverá ser entendida como exemplo, como possibilidade, e par compreendermos o que chamo de “sistema” e de “sistematização” (explicação que devo a alguns companheiros).
Amadurecemos muito e somos capazes de perceber as falhas das teologias tradicionais ou teologias correntes. Fazer o diagnóstico e encontrar o problema se tornou quase fácil. O que temos muita dificuldade de fazer é mergulhar na raiz, nos caminhos que nos levam aos equívocos, aos erros. Temos dificuldade de perceber o que está por trás do que aparece. No texto do Piero e no comentário, há uma crítica muito importante: Deus não pode ser objeto de nosso amor. Nos aparece um problema: Deus não pode ser objeto, não é objeto. E o que deveria nos incomodar é “porque dizemos que Deus é objeto de nosso amor?”. Qual caminho tomamos para chegar a essa conclusão (chamar Deus de objeto) e deixarmos essa crença passar desapercebida, sem que colocá-lo como objeto nos assuste? Esta é a raiz do problema, onde precisamos trabalhar: é o sistema significativo de justificação (o método) que no encadeamento lógico nos leva a essa conclusão. Aí precisamos trabalhar!
No fim de semana, em uma mensagem, o pastor contou uma história em que um homem perguntou para ele “para quê Deus serve?“. Para chegarmos a esse tipo de questão, existe uma estrutura que sustenta a crença, a justifica. Ela precisa ser trabalhada. A dificuldade que temos é que diagnosticamos o problema, percebemos que algo está errado, mas na hora de solucionar, tomamos o mesmo caminho de sempre. E aqui começamos o trabalho de sistematização de uma nova teologia: olhemos para o caminho que tomamos para solucionar os problemas e modifiquemos ele.
Rubem Alves percebeu que a teologia protestante clássica tinha problemas: ela isentava os homens das catástrofes e das maravilhas do mundo, da história. Os homens eram espectadores da história, sendo Deus o agente, o sujeito de tudo e em tudo. Alves, então, resgata a tradição protestante-europeia (que também era base da teologia clássica) e propõe o homem como sujeito da história, como sujeito-histórico. Isso é revolucionário e transformador frente as interpretações enraizadas em nossa religiosidade, mas não reformula o método de justificação de nossas crenças: manteve a relação sujeito-objeto, transferindo o papel de sujeito de Deus para a humanidade. Na tradição, Deus é sujeito em oposição ao objeto História, enquanto que em Rubem Alves o homem é sujeito em oposição ao objeto História. Claro, estou fazendo uma generalização. Porém, a relação Deus-homem tanto em uma quanto em outra, não existe. Aliás, não existe relação: há apenas oposição.
O que não criticamos e deixamos passar desapercebido é esse sistema: sujeito-objeto. Em oposição ao sujeito, só há objeto. É a filosofia e a teologia moderna: o sujeito, Eu, que se opõe e domina, conquista, o objeto, aquilo que não-é-Eu. O Próximo, que deve ser amado como a mim mesmo, por exemplo, é entendido como objeto de amor do Eu, do Mesmo. Mas, o Próximo, o Outro, Outra Pessoa, é objeto? É quem se opõe à mim e precisa, como método de trabalho, ser dominado, conquistado? Precisa “servir para alguma coisa”? Não há relação homem-Deus, Deus-homem, homem-Homem, porque para além do sujeito, nesse sistema, só há objeto.
Eu sou uma totalidade que existe e tudo o que é oposição à mim precisa ser adequado, explicado e controlado por mim – sujeito. Essa é a base de produção teológica, o fundamento do sistema. Para transformarmos pedagogicamente nossa teologia, nossa mensagem, os significantes de nossas crenças, precisamos alterar o caminho, o método, o sistema.
Minha proposta é conseguirmos transformar a oposição sujeito-objeto em relação sujeito-sujeito: o Próximo é sujeito, para além de mim, não totalizável, não controlável, não conquistável. O Próximo é a voz que me perturba, que me faz perceber que o mundo não é meu e nem capaz de se encaixar à mim. Não me oposiciono a objetos, somente, mas também me relaciono com sujeitos, Outros sujeitos – que estão para além de mim. É percepção e reconhecimento do sujeito como sujeito, do Outro sujeito, daquele que também age e não cabe em mim. É transformarmos oposição em relação. Relação que tensiona o Eu, o Mesmo. Não sou só, há vida par além de mim.
É desenvolvermos a ferramenta e a proposta de relacionalidade: estamos em relação com sujeitos. Deus não é e nem pode ser objeto de meu amor; é sujeito com quem estou em relação: relação aberta, que corre o risco de ser quebrada no instante que a objetifico. Amar é a manutenção da separação entre Eu e o Outro, entre Nós. Amar é manter esse espaço de liberdade, esse vazio entre Um e Outro, espaço em que o Espírito sopra e renova a Vida. O Próximo está em relação comigo, não em oposição. Não é objeto de meu amor, mas eu devo amor à ele: cuidado com sua vida, com a separação que há entre nós; não devo dominá-lo, controlá-lo, conquistá-lo. Amá-lo, só. Continuar lendo →
![grafite arte urbana QBRK (11)[8]](https://brunoreikdal.files.wordpress.com/2015/08/grafite-arte-urbana-qbrk-118.jpg?w=620) Publicamos hoje o texto de Daniel Penna, um dos participantes do Encontro de Estudo Bíblico de Adolescentes. O Dani trabalha temas como opressores-oprimidos, justiça, profecia, utopia e os processos políticos e projetivos de construção de uma cidade. A “cidade”, aqui, tem sentido da pólis ou civitas da tradição: o lugar político e cidadão. Todos os insights estão apresentados num panorama geral do livro bíblico de Miquéias:
Publicamos hoje o texto de Daniel Penna, um dos participantes do Encontro de Estudo Bíblico de Adolescentes. O Dani trabalha temas como opressores-oprimidos, justiça, profecia, utopia e os processos políticos e projetivos de construção de uma cidade. A “cidade”, aqui, tem sentido da pólis ou civitas da tradição: o lugar político e cidadão. Todos os insights estão apresentados num panorama geral do livro bíblico de Miquéias: Esta é uma crítica teológico-política. Marx já lembrou a gente que a crítica teológica é a primeira crítica política. Também podemos inverter: a crítica política é a primeira crítica teológica. Dizer que é uma crítica teológica não significa que falaremos de Deus. Significa que falaremos de “crenças”: de estruturas significativas que não tem outro lugar a não ser a experiência da relação humana, do “entre nós”. Dizer que é uma crítica política não significa que falaremos da guerra. A guerra começa quando a política cai. Significa que falaremos de todos os caminhos para impedir a guerra. Se a guerra começa, seja ela santa ou não, é porque a política e a teologia foram deixadas de lado: se tornaram ferramentas nas mãos de arquitetos sem escrúpulos
Esta é uma crítica teológico-política. Marx já lembrou a gente que a crítica teológica é a primeira crítica política. Também podemos inverter: a crítica política é a primeira crítica teológica. Dizer que é uma crítica teológica não significa que falaremos de Deus. Significa que falaremos de “crenças”: de estruturas significativas que não tem outro lugar a não ser a experiência da relação humana, do “entre nós”. Dizer que é uma crítica política não significa que falaremos da guerra. A guerra começa quando a política cai. Significa que falaremos de todos os caminhos para impedir a guerra. Se a guerra começa, seja ela santa ou não, é porque a política e a teologia foram deixadas de lado: se tornaram ferramentas nas mãos de arquitetos sem escrúpulos